A Peste de Camus o surto endêmico, também utópico
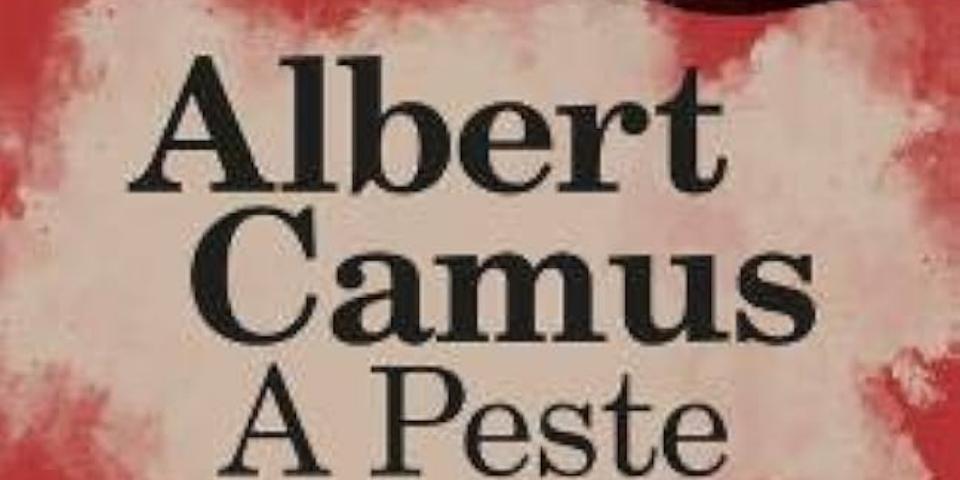
Table of Contents
Não raro é a ocasião que faz a obra. Desde a eclosão da pandemia, A Peste, obra do francês Albert Camus, também experimenta um surto viral: o livro físico esgotado na editora; o ebook com preço mais salgado; a versão em pdf rolando no zap. O motivo, para tanto, não é outro: a peste da cidade argelina de Orã é análoga, em vários dos seus efeitos, às transformações globais na esteira do COVID-19. De um lado, uma epidemia insubmissa aos remédios e velozmente letal. Do outro, o confinamento, a incerteza, a longa espera. O que não deve surpreender, afinal, como escreveu Beatriz Preciado em artigo recente no El pais: “vale a pena reler o capítulo sobre a gestão da peste na Europa de Vigiar e Punir para perceber que as políticas de gestão da Covid-19 não mudaram muito desde então”. Finalizada logo após o fim da Segunda Guerra, a obra foi escrita entre 1942-47, período em que o autor escrevia no jornal clandestino Combat! contra a ocupação alemã. Se Camus nunca escondeu que a peste era uma alegoria da Europa assaltada pelos nazistas, supõe-se outra camada de coincidência entre A Peste e o presente: além da pandemia, o novo tempo do mundo não corresponde ao inédito renascimento dos regimes autoritários? A cidade de Orã, portanto, é um laboratório em que Camus testa as reações possíveis perante o abismo – para falar como um existencialista, o absurdo – em já não encontramos as luzes irradiadas pelas certezas, até então vigentes, sobre o mundo. Em sua crítica ao livro, Roland Barthes diz que lhe falta “significação propriamente histórica”, sem a eficácia crítica da narrativa é posta em xeque. Não há dúvida de que, em termos ‘conjunturais’, A Peste é menos eloquente que a literatura pós-guerra de outros autores como Jean-Paul Sartre, Thomas Mann e William Faulkner. Não é menos certo, no entanto, que ao narrar o sofrimento humano com tamanha precisão, é a condição humana, em sua matéria tão inexorável quanto ambígua, fixada por Camus. Se Adorno dizia que não há poesia depois de Auschwitz, o que Camus está dizendo que tampouco haverá rendição. Vencemos uma vez e seríamos capazes de fazê-lo novamente. Decerto é uma boa hora para que retonermos ao livro. Os personagens de Camus – o médico Rieux, o viajante Tarrou, o jornalista Rambert, o servidor público Grand, o contrabandista Cottard – não são meramente movidos pela “boa vontade”, virtude moralista que Barthes apregoara ao livro. O raciocínios dos mesmos é antes tático que moral. Urgente e não clemente. Agem porque é necessário, embora não seja inevitável – até porque, de agora em diante, inevitável só a peste. Por mais que cristã, Orã não é contagiada pelo discurso do padre Paneloux, insistente de que a peste era uma penitência pelos costumes pouco cristãos dos moradores da cidade. Os moradores da cidade – em especial, os personagens caracterizados por Camus – dão-se conta, sem demora, que a religião não ajudava a reprimir a doença. Além da violação dos corpos e das famílias, a violência contra os personagens nasce da descoberta do absurdo dentro de si mesmo enquanto Deus se cala e se revela alguém distante. Não se trata nem de aceitar o flagelo como castigo, nem de perseverar no enfrentamento à espera da recompensa divina. “A questão não é saber qual é a recompensa ou o castigo que espera esse raciocínio. A questão é saber se dois e dois são ou não quatro”, afirma o narrador. É dessa matemática aritmética – e portanto dura e óbvia – que as ações dos personagens serão justificadas e, no mesmo ato, despidas de heroísmo através da escrita que lhes purga a pompa própria aos heróis e atores brilhantes. O caráter impiedoso da peste está bem expresso na temporalidade rarefeita da narrativa. A primeira metade do livro basicamente reproduz a progressiva e monótona conscientização dos moradores de Orã a respeito da peste. Camus instaura uma teia de pequenos episódios que se intercomunicam, sem que nenhum se sobreponha ao outro, mas ensaiem relações, à primeira vista, desinteressadas – até que discretamente, e por isso mesmo paradoxalmente, se transformam noutra coisa grande, espessa, a peste. Mesmo nos momentos da fuga de Lambart, há um anti-clímax endêmico, uma estratégia narrativa em que Camus formaliza as paragens, os obstáculos, as interrupções como o princípio do movimento da forma literária internalizada pela peste. Ao passo que a narrativa se move como placas tectônicas, os personagens de Camus ostentam uma subjetividade quase física, áspera, que não se guia por amor (“vou recusar, até a morte, amar esta criação em que as crianças são torturadas” afirma Rieux) ou por sabedoria (“não se pode, ao mesmo tempo, curar e saber”), Mas, sim, pela consciência brutal, frigida no calor e absurdez dos acontecimentos, de que viver eticamente significa estar estar à altura do próprio destino – 2+2=4. Mesmo que vários dos impasses subjetivos dos personagens de Camus sejam equivalentes aos de Jean-Paul Sartre, a vocação daquele em absorver a vida exterior, e não de exteriorizar a vida interior, torna seus derivados mais misteriosos, opacos e ainda assim pouco arbitrários – tudo isso diretamente atrelado ao estilo conciso (períodos curtos), sóbrio (poucos adjetivos), quase impessoal, mas ao mesmo tempo vulnerável, do relato de Camus. A sobriedade da linguagem de Camus, com efeito, não se presta a analisar clinicamente a realidade, pois o apuro e rigidez jamais subtraem o sentimento de fundo que assombra a letra do texto, a saber, de que o narrador escreve acossado pelo perigo, como alguém que não dorme e, mesmo quando isso acontece, não passa de uma noite de “sono sem sonhos”, como o mesmo afirma. O desassombro de Camus diante do narrado – isso que importa – é proporcional ao rigor em evitar que a boa vontade dos personagens seja celebrada em si mesma. Somente assim, o processo pelo qual reconstroem os vínculos sociais e políticos não é benevolente, como sugere a crítica de Barthes. Dito de outro modo: se Lambart desistiu da fuga para lutar ao lado das brigadas sanitaristas, foi porque o colapso das reações possíveis abriu o personagem para engajamentos até então impossíveis. Quem melhor exprimiu esse sentimento de desamparo que se revela diante de grandes tragédias foi Sartre, em texto escrito na mesma altura que A Peste, justamente sobre as vivências na Resistência Francesa: “a cada segundo vivíamos em sua plenitude o sentido desta pequena frase banal: ‘Todos os homens são mortais.’ E a escolha que cada um fazia de si mesmo era autêntica porque era feita na presença da morte, porque poderia sempre se expressar como ‘Melhor morrer do que…’.” Trazendo ao nosso caso, A Peste não expressa apenas a inadequação entre a força individual e o absurdo da situação, mas é premido pela urgência em resolvê-la, emendá-la, para a qual os personagens descobrem que não há outra solução senão a retradução do medo numa coragem afirmativa, pois só daí nasce a chance perante acontecimentos que excedem nossa capacidade de ação e fé. À vista disso, no interior da obra de Camus, fica mais fácil perceber porque A Peste representa a passagem da primeira fase, marcada pelo negação e o absurdo (O Estrangeiro e O Mito de Sísifo), para a segunda em que a revolta ganha corpo através da instauração de certa coragem afirmativa pelos personagens (A Peste e O Homem Revoltado). Nas palavras do autor, “se há evolução do Estrangeiro à Peste, ela se deu no sentido da solidariedade e da participação”. Parece também ser essa, afinal, a travessia que agora nos cabe.